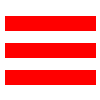Deixando o Castelo do Vampiro
/// Mark Fisher

Ilustração por Andy King
As contas do Twitter de “esquerda” geralmente configuram uma zona miserável e desanimadora. No início deste ano, ocorreram algumas tempestades em certos perfis no Twitter, nas quais figuras específicas identificadas à esquerda foram “autuadas” e condenadas. O que essas figuras haviam dito era, às vezes, censurável; mas, no entanto, a maneira pela qual foram pessoalmente difamadas e perseguidas me deixou uma sensação residual horrível: um cheiro de má consciência e um moralismo tipo “caça às bruxas”. A razão pela qual não me manifestei sobre nenhum desses incidentes, tenho vergonha de dizer, foi o medo que tive. Os valentões estavam na outra parte do playground. E eu não quis atrair a atenção deles para mim.
A franca selvageria dessas trocas de mensagens foi acompanhada por algo mais difundido e, por esse motivo, talvez mais debilitante: uma atmosfera de ressentimento sarcástico. O alvo mais frequente desse ressentimento foi (e é) Owen Jones. Os ataques a Jones — o maior responsável por elevar a consciência de classe no Reino Unido nos últimos anos — foram uma das razões pelas quais fiquei tão abatido. Se é isso o que acontece com um sujeito de esquerda que está realmente conseguindo levar certas lutas políticas para o centro da vida britânica, por que alguém iria querer segui-lo até o mainstream? Permanecer numa posição de marginalidade impotente é a única maneira de evitar que esse abuso paulatino aconteça?
Uma das coisas que me tirou desse estupor depressivo foi ir à Assembléia Popular em Ipswich, perto de onde moro. A Assembléia Popular foi saudada com os risos e as zombarias habituais. Disseram-me que havia um golpe inútil, no qual esquerdistas da mídia, incluindo Jones, estavam se engrandecendo em mais uma exibição da cultura das celebridades emergentes. O que realmente aconteceu na Assembléia em Ipswich foi muito diferente dessa caricatura [que me foi dada]. A primeira metade da noite — culminando num discurso empolgante de Owen Jones — foi liderada pelos palestrantes da mesa. Mas na segunda metade da reunião ativistas da classe trabalhadora de várias partes de Suffolk conversaram entre si, apoiando-se, compartilhando experiências e estratégias. Longe de ser outro exemplo de esquerdismo hierárquico, a Assembléia Popular foi um exemplo de como a verticalidade pode ser combinada com a horizontalidade: poder midiático e carisma poderiam atrair pessoas que não haviam estado anteriormente numa reunião política naquela sala, onde poderiam conversar e criar estratégias com ativistas experientes. A atmosfera era anti-racista e anti-sexista, mas refrescantemente livre do sentimento paralisante de culpa e suspeita que paira sobre os Twitters de esquerda como uma névoa acre e sufocante.
E lá estava Russell Brand. Sou admirador de Brand há muito tempo — um dos poucos comediantes renomados da cena atual que vem da classe trabalhadora. Nos últimos anos, houve um emburguesamento gradual, porém sem remorsos, da comédia televisiva, com o absurdo e ultra-elegante Michael McIntyre e uma garoa sombria de recém-graduados insípidos dominando o palco.
Um dia antes da agora famosa entrevista de Brand com Jeremy Paxman ser transmitida na Newsnight, eu tinha visto o stand-up de Brand no Messiah Complex, em Ipswich. A apresentação foi desafiadoramente pró-imigrante, pró-comunista, anti-homofóbico, saturado com a inteligência da classe trabalhadora e sem medo de mostrá-la, e foi queer da maneira que a cultura popular costumava ser (ou seja, nada a ver com a faceta identitária azeda e piedosa imposta a nós por moralistas da “esquerda” pós-estruturalista). Malcolm X, Che, a política como um desmantelamento psicodélico da realidade existente: esse era o comunismo como algo cool, sexy e proletário, ao invés de um sermão dado por alguém com os dedos em riste apontados para nós.
Na noite seguinte, ficou claro que a aparição de Brand havia produzido um momento de divisão. Para alguns de nós, a força da argumentação de Brand com Paxman foi intensamente emocionante, milagrosa; eu não conseguia me lembrar da última vez em que uma pessoa da classe trabalhadora teve espaço para destruir tão consumadamente uma classe “superior” usando inteligência e razão. Não era Johnny Rotten xingando Bill Grundy — um ato de antagonismo que confirmou mais do que desafiou os estereótipos de classe. Brand havia enganado Paxman — e o uso do humor foi o que separou Brand da amargura de tanto “esquerdismo”. Brand fez as pessoas se sentirem bem consigo mesmas; enquanto a esquerda moralizante se especializa em fazer as pessoas se sentirem mal e não é feliz até que suas cabeças estejam inclinadas em culpa e auto-aversão.
A esquerda moralizante rapidamente garantiu que a história não fosse vista como uma violação extraordinária, por parte de Brand, das convenções sem graça do “debate midiático” convencional, nem sobre a alegação de que a revolução iria acontecer. Esta última alegação só pôde ser ouvida pela ‘esquerda’ narcisista pequeno-burguesa como Brand dizendo que queria liderar a revolução — algo que eles responderam com ressentimento típico: ‘Eu não preciso de uma celebridade de salto alto para me liderar’. Para os moralistas, a história dominante era sobre a conduta pessoal de Brand — especificamente seu sexismo. Na febril atmosfera de McCarthismo fermentada pela esquerda moralizante, pistas que poderiam ser interpretadas como indício de sexismo significam que Brand é um sexista, o que também significa que ele é misógino. E então está feito. É curto e grosso. Ele está condenado.
É certo que Brand, como qualquer um de nós, tenha que responder por seu comportamento e pela linguagem que usa. Mas esse questionamento deveria ocorrer numa atmosfera de camaradagem e solidariedade, e provavelmente não em público, em primeiro lugar — ainda que, quando Brand foi questionado sobre sexismo por Mehdi Hasan, ele demonstrasse exatamente o tipo de humildade bem-humorada que faltava inteiramente nos rostos daqueles que o julgaram. “Eu não acho que sou sexista, mas lembro da minha avó, a pessoa mais adorável que eu já conheci: ela era racista, mas não acho que ela sabia. Não sei se tenho um cacoete cultural muito grande, sei que gosto muito da linguística do proletariado, dizer coisas como ‘querida’ e ‘pintinho’; portanto, se as mulheres pensam que sou sexista, estão em melhor posição do que eu para julgar, então vou trabalhar nisso.”
A intervenção de Brand não foi a insinuação de uma liderança; foi uma inspiração, um chamado às armas. E eu fui um dos inspirados. Onde, alguns meses antes, eu teria ficado em silêncio quando os moralistas da esquerda elegante sujeitaram Brand a seus tribunais de canguru e seus assassinatos de reputação — com ‘evidências’ geralmente recolhidas junto à imprensa de direita, sempre disponível para ajudar –, desta vez eu estava preparado para enfrentá-los. A resposta a Brand rapidamente se tornou tão significativa quanto a própria argumentação com Paxman. Como Laura Oldfield Ford apontou, este foi um momento esclarecedor. E uma das coisas que me foi esclarecida foi a maneira pela qual, nos últimos anos, grande parte da autodenominada “esquerda” suprimiu a questão da classe.
A consciência de classe é frágil e passageira. A pequena burguesia que domina a academia e a indústria cultural faz todos os tipos de deflexões e pressões sutis que impedem que o tópico apareça, e então, se ele surgir, fazem pensar que é uma terrível impertinência, uma falta de etiqueta abordá-lo. Eu tenho falado sobre a esquerda, sobre eventos anticapitalistas há anos, mas raramente falo — ou me pedem para falar — sobre classe em público.
Mas, uma vez que a classe reapareceu, é impossível não enxergá-la em toda parte na resposta ao caso Brand. Brand foi rapidamente julgado e/ou interrogado por pelo menos três pessoas, à esquerda, provenientes de escolas particulares. Outros nos disseram que Brand não poderia realmente ser da classe trabalhadora porque ele era um milionário. É alarmante quantos “esquerdistas” pareciam concordar fundamentalmente com a tendência por trás da pergunta de Paxman: “O que dá a essa classe trabalhadora a autoridade para falar?”. É também alarmante e, na realidade, angustiante que eles pareçam pensar que as pessoas da classe trabalhadora devem permanecer na pobreza, na obscuridade e na impotência para que não percam sua ‘autenticidade’.
Alguém me passou um post escrito sobre Brand no Facebook. Não conheço o indivíduo que o escreveu e não gostaria de nomeá-lo. O importante é que o post foi sintomático de um conjunto de atitudes esnobes e condescendentes que aparentemente é bom exibir enquanto alguém ainda se classifica como sendo de “esquerda”. Todo o tom era terrivelmente arrogante, como se fosse um professor de escola riscando à mão o trabalho de uma criança ou um psiquiatra avaliando um paciente. Brand, ao que parece, é [descrito como] “claramente e extremamente instável… [devido a] um relacionamento ruim ou uma contrariedade [qualquer] na carreira, [apto para] desmoronar no vício em drogas ou em coisa pior.” Embora a pessoa afirme que “realmente gosta muito de Brand”, talvez nunca ocorrerá a ela que uma das razões pelas quais Brand pode ser “instável” é esse tipo de avaliação condescendente e falsamente transcendental [feita a respeito de gente como ele] pela burguesia de “esquerda”. Há também um aspecto chocante, mas revelador, em que o indivíduo se refere casualmente à “educação desigual” de Brand [e] ao seu vocabulário que causa estremecimento, característico de um autodidata — sobre o qual esse indivíduo generosamente diz: “Não tenho nenhum problema com isso”. Ora! Como esse sujeito é bom! Não se trata de um burocrata colonial escrevendo sobre suas tentativas de ensinar a alguns “nativos” a língua inglesa no século XIX ou de um professor de uma escola vitoriana em alguma instituição privada que descreve um de seus bolsistas. É um “esquerdista” escrevendo algumas semanas atrás.
Para onde ir daqui para a frente? Antes de tudo, é necessário identificar as características dos discursos e os desejos que nos levaram a esse passo sombrio e desmoralizante, onde a classe desapareceu, mas o moralismo está em toda parte. Onde a solidariedade é impossível, mas a culpa e o medo são onipresentes — e não porque somos aterrorizados pela direita, mas porque permitimos que os modos burgueses de subjetividade contaminem nosso movimento.
Eu acho que temos aqui duas configurações libidinal-discursivas que nos trouxeram a essa situação. Ambas se definem à esquerda, mas, como o episódio de Brand deixou claro, ambas são, de várias maneiras, sinais de que a esquerda, definida como um agente da luta de classes, praticamente desapareceu.
Dentro do Castelo do Vampiro
O privilégio que certamente desfruto como homem branco consiste, em parte, em não estar ciente de minha etnia e gênero, e é uma experiência sóbria e reveladora, ocasionalmente, tomar consciência desses pontos cegos. Porém, mais do que procurar um mundo em que todos consigam se libertar da classificação identitária, o Castelo do Vampiro procura encurralar as pessoas em campos identitários, onde elas são definidas para sempre nos termos estabelecidos pelo poder dominante, prejudicados pela autoconsciência [que possam ter] e isolados por uma lógica de solipsismo que insiste em que não podemos nos entender, a menos que pertençamos ao mesmo grupo de identidade.
Já reparei num fascinante mecanismo de inversão mágica entre projeção-desaprovação, pelo qual a simples menção de classe é tratada automaticamente como se isso significasse que alguém está tentando rebaixar a importância de raça e gênero. De fato, o caso é o oposto, pois o Castelo do Vampiro utiliza um entendimento liberal de raça e gênero para ofuscar as questões de classe. Em todas as tempestades absurdas e traumáticas do Twitter sobre privilégios, no início deste ano, foi notável que a discussão sobre privilégios de classe estava totalmente ausente. A tarefa, como sempre, continua sendo a articulação de classe, gênero e raça — mas o movimento fundador do Castelo do Vampiro é a desarticulação da classe em relação às demais categorias.
O Castelo do Vampiro foi criado para resolver o seguinte problema: como você pode deter imensa riqueza e poder enquanto também aparece como vítima, marginal e oposicionista? A solução já estava lá — na igreja cristã. Assim, o Castelo do Vampiro recorreu a todas as estratégias infernais, patologias sombrias e instrumentos de tortura psicológica que o cristianismo inventou, e que Nietzsche descreveu na Genealogia da Moral. A existência desse sacerdócio da má consciência, esse ninho de devotos piedosos, é exatamente o que Nietzsche previu quando disse que algo pior do que o cristianismo já estava a caminho. E aqui está…
O Castelo do Vampiro se alimenta da energia, ansiedades e vulnerabilidades dos jovens estudantes, mas, acima de tudo, vive convertendo o sofrimento de grupos específicos — quanto mais “marginais”, melhores — em capital acadêmico. As figuras mais louvadas no Castelo do Vampiro são aquelas que descobriram um novo mercado de sofrimento — aquelas que podem encontrar um grupo mais oprimido e subjugado do que qualquer outro explorado anteriormente serão promovidas através dessas fileiras muito rapidamente.
A primeira lei do Castelo do Vampiro é: individualizar e privatizar tudo.
A segunda lei do Castelo do Vampiro é: fazer o pensamento e a ação parecerem muito, muito difíceis.
A terceira lei do Castelo do Vampiro é: propague o máximo de culpa possível.
A quarta lei do Castelo do Vampiro é: essencialize.
A quinta lei do Castelo do Vampiro: pense como um liberal (porque você é um).
Neo-anarquia no Reino Unido
A segunda formação libidinal é o neo-anarquismo. Como neo-anarquistas, eu definitivamente não quero me referir aos anarquistas ou sindicalistas envolvidos na organização real do local de trabalho, como a Federação de Solidariedade. Quero referir, sim, àqueles que se identificam como anarquistas mas cujo envolvimento na política se estende muito pouco além dos protestos e ocupações estudantis e dos comentários no Twitter. Como os habitantes do Castelo do Vampiro, os neo-anarquistas geralmente vêm de uma origem pequeno-burguesa, se não de algum lugar de ainda maior privilégio de classe.
Eles também são esmagadoramente jovens: na casa dos vinte ou, no máximo, na casa dos trinta, e o que informa sua posição neo-anarquista é um estreito horizonte histórico. Os neo-anarquistas não experimentaram nada além do realismo capitalista. Quando os neo-anarquistas chegaram à consciência política — e muitos deles chegaram à consciência política há muito pouco tempo, dado o nível de arrogância autista que às vezes exibem –, o Partido Trabalhista havia se tornado uma casca blairista, implementando o neoliberalismo com uma pequena dose de justiça social ao lado. Mas o problema com o neo-anarquismo é que ele reflete impensadamente esse momento histórico, em vez de fugir dele. Esquece-se, ou talvez não tenha conhecimento genuíno, do papel do Partido Trabalhista na nacionalização de grandes indústrias e serviços públicos ou na fundação do Serviço Nacional de Saúde. Os neo-anarquistas afirmam que “a política parlamentar nunca mudou nada” ou que o “Partido Trabalhista sempre foi inútil” enquanto participava de protestos sobre o NHS ou retuitava queixas sobre o desmantelamento do que resta do estado de bem-estar social. Há uma estranha regra implícita aqui: não há problema em protestar contra o que o parlamento fez, mas não é certo entrar no parlamento ou na mídia para tentar projetar mudanças a partir daí. A grande mídia deve ser desprezada, mas o BBC Question Time deve ser assistido e lamentado no Twitter. O purismo se transforma em fatalismo; é melhor não ser manchado pela corrupção do mainstream, é melhor “resistir” inutilmente do que correr o risco de sujar as mãos.
Não é surpreendente, então, que tantos neo-anarquistas pareçam deprimidos. Essa depressão é, sem dúvida, reforçada pelas ansiedades da vida de pós-graduação, uma vez que, como o Castelo do Vampiro, o neo-anarquismo tem seu lar natural nas universidades e é geralmente propagado por aqueles que estudam para obter as qualificações de pós-graduação ou por aqueles que se formaram recentemente em tais universidades.
O que fazer?
Por que essas duas configurações vieram à tona? A primeira razão é que elas foram autorizadas a prosperar pelo capital porque servem a seus interesses. O capital subjugou a classe operária organizada, decompondo a consciência de classe, subjugando cruelmente os sindicatos e seduzindo “famílias trabalhadoras” a se identificarem com seus próprios interesses estritamente definidos, em vez dos interesses da classe mais ampla; mas por que o capital se preocuparia com uma “esquerda” que substitui a política de classe por um individualismo moralizante e que, longe de criar solidariedade, espalha medo e insegurança?
A segunda razão é o que Jodi Dean chamou de “capitalismo comunicativo”. Poderia ter sido possível ignorar o Castelo do Vampiro e os neo-anarquistas, se não fosse o ciberespaço capitalista. A piedosa moralização do Castelo do Vampiro tem sido característica de uma certa “esquerda” por muitos anos — mas, se alguém não fosse membro dessa igreja em particular, seus sermões poderiam ser evitados. A mídia social significa que esse não é mais o caso, e há pouca proteção contra as patologias psíquicas propagadas por esses discursos.
E então? O que podemos fazer agora? Antes de tudo, é imperativo rejeitar o identitarismo e reconhecer que não há identidades, apenas desejos, interesses e identificações. Parte da importância do projeto dos Estudos Culturais Britânicos — como revelado de maneira tão poderosa e comovente na instalação de John Akomfrah, The Unfinished Conversation (atualmente na Tate Britain) e em seu filme The Stuart Hall Project — era resistir ao essencialismo identitário. Em vez de congelar as pessoas em cadeias de equivalências já existentes, o objetivo era tratar qualquer articulação como provisória e dotada de plasticidade. Novas articulações sempre podem ser criadas. Ninguém é essencialmente nada. Infelizmente, a ação correta sobre esse insight é mais eficaz do que a esquerda. A esquerda burguesa-identitária sabe como propagar a culpa e conduzir uma caça às bruxas, mas não sabe como se converter. Mas isso, afinal, não é o ponto. O objetivo não é popularizar uma posição de esquerda, ou conquistar as pessoas, mas permanecer numa posição de superioridade de elite, mas agora com a superioridade de classe redobrada também pela superioridade moral. “Como você ousa falar, somos nós que falamos por quem sofre!”
Mas a rejeição do identitarismo só pode ser alcançada pela reafirmação de classe. Uma esquerda que não tem classe em seu núcleo só pode ser um grupo de pressão liberal. A consciência de classe é sempre dupla: envolve um conhecimento simultâneo da maneira como a classe enquadra e molda toda a experiência e um conhecimento da posição específica que ocupamos na estrutura de classes. É preciso lembrar que o objetivo de nossa luta não é o reconhecimento da burguesia, nem mesmo a destruição da própria burguesia. É a estrutura de classes — uma estrutura que fere a todos, mesmo aqueles que lucram materialmente — que deve ser destruída. Os interesses da classe trabalhadora são os interesses de todos; os interesses da burguesia são os interesses do capital, que são os interesses de ninguém. Nossa luta deve ser pela construção de um mundo novo e surpreendente, não pela preservação de identidades moldadas e distorcidas pelo capital.
Se isso parece uma tarefa proibitiva e asustadora? É. Mas podemos agora começar a participar de muitas atividades prefigurativas. Na verdade, essas atividades iriam além da pré-figuração — elas poderiam iniciar um ciclo virtuoso, uma profecia auto-realizável na qual os modos burgueses de subjetividade são desmantelados e uma nova universalidade começaria a se construir. Precisamos aprender ou re-aprender como construir relações de camaradagem e solidariedade, em vez de fazer o trabalho próprio do capital condenando e abusando uns dos outros. Isso não significa, é claro, que devemos sempre concordar — pelo contrário, devemos criar condições em que as divergências possam ocorrer sem medo de exclusão e excomunhão.
Precisamos pensar muito estrategicamente sobre como usar as mídias sociais — sempre lembrando que, apesar do igualitarismo reivindicado para as mídias sociais pelos engenheiros libidinais do capital, este é atualmente um território inimigo, dedicado à reprodução do capital. Mas isso não significa que não podemos ocupar o terreno e começar a usá-lo com o objetivo de produzir consciência de classe. Precisamos sair do “debate” estabelecido pelo capitalismo comunicativo, no qual o capital está nos incitando incessantemente a participar, e lembrar que estamos envolvidos numa luta de classes. O objetivo não é “ser” um ativista, mas ajudar a classe trabalhadora a se ativar — e se transformar. Fora do Castelo do Vampiro, tudo é possível.